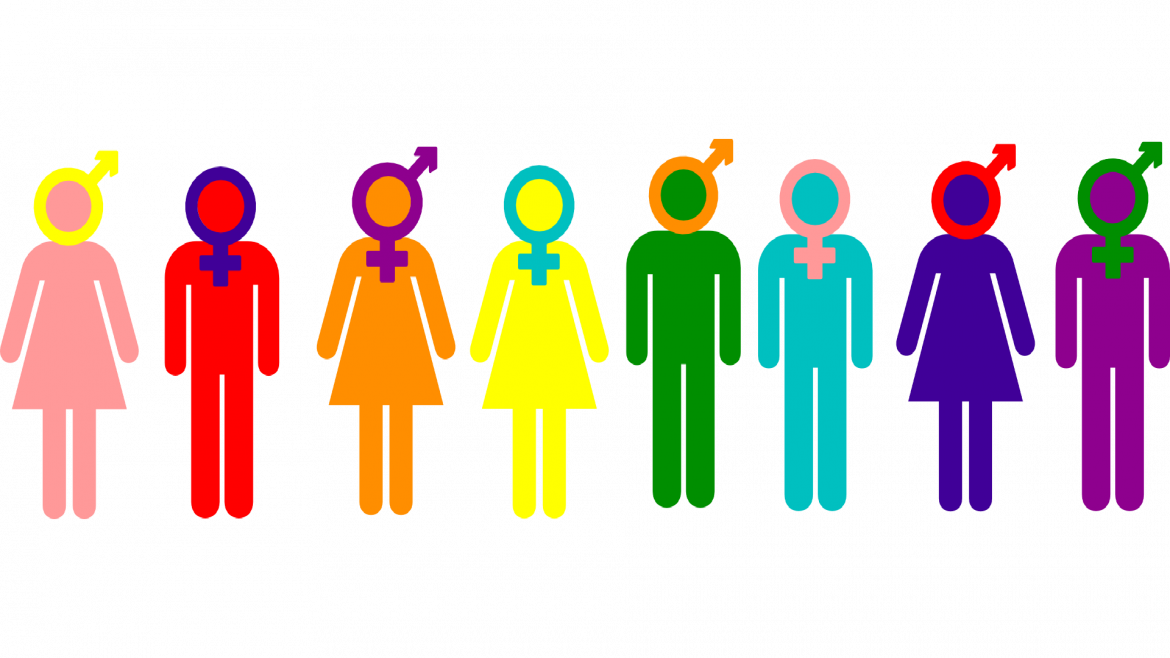
Esse é um texto que já vinha pensando em fazer há algum tempo. Sei que talvez esse blog não seja o espaço ideal para isso, mas como é o que tenho, vou utilizá-lo. Aviso que não é minha intenção de fazer um tratado acadêmico: elaboro essas reflexões a partir de minhas próprias experiências. [Quem acompanha esse blog por causa dos textos sobre cinema pode não saber, mas sou pesquisadora de gênero, diversidade e corpo].
A questão da linguagem inclusiva é um problema que tem sido colocado de forma bastante marcada nos últimos anos. Percebo que a discussão saiu da esfera acadêmica e tem extrapolado para o cotidiano de diversas pessoas que têm interesse sobre o tema. Um dos pontos que mais tem chamado a atenção é o uso cada vez mais difundido o X no lugar do marcador de gênero em textos, como uma forma de torná-lo neutro. Na língua portuguesa (e outras latinas) não temos artigos ou pronomes neutros: eles se dividem em masculinos e femininos e a concordância é feita em torno dessas duas possibilidades.
Em 2013 estava cursando uma disciplina como aluna especial na pós-graduação em Antropologia Social da UFAM (Universidade Federal do Amazonas) e a professora mencionou que estava lendo uma tese que usava o X da maneira citada acima (como “xs alunxs”, por exemplo) e criticou a prática pois considerava inadequado um trabalho acadêmico que não utiliza a norma culta de forma estrita. Na época discordei, mas hoje eu mesma já não uso o X, só que não pelo motivo apresentado por ela. Aproveito esse gancho para falar um pouco da minha experiência.
Lembro da ver a preocupação com a forma de grafar de uma maneira mais inclusiva já aparecer em espaços como fóruns de páginas do Orkut, a “falecida” rede social do Google utilizada pela maioria dos brasileiros na década passada. Lá por 2008 ou 2010 já era possível ler “menin@s” e outras palavras flexionadas dessa forma circulando por esses espaços virtuais. A ideia era que a forma da arroba incorporaria tanto um “a” (em sua parte interna) como um “o” (a curva externa), podendo representar, então os gêneros masculino e feminino.
A prática passou a ser criticada alguns anos depois, por ser excludente: a divisão em dois gêneros está longe de dar conta das experiências vivenciadas quando se trata de identidade de gênero, deixando de fora pessoas não-binárias. Na esteira dessa crítica veio a utilização do X, já mencionado. A letra não indicaria nenhum gênero em específico, permitindo atrelá-la a expressões identitárias diversas. Por isso, quando a minha professora, em 2013, questionou o uso em um trabalho acadêmico, fiquei do lado de quem o escreveu: a ideia seria que um texto que incluísse uma quantidade maior de pessoas deveria importar mais do que as regras gramaticais, principalmente porque a língua, viva, deve se adaptar às nossas necessidades e práticas.
Acontece que o X, assim como a arroba, carrega em si uma grande exclusão: pessoas cegas, que acessam a internet por meio de dispositivos de leitura de tela, não conseguem entender essas palavras, porque os programas e aplicativos simplesmente não as reconhecem nessas grafias, impossibilitando o entendimento do texto inteiro. [Para saber mais sobre como tornar sua timeline acessível, leia esse texto de Sidney Andrade]. Vale dizer, também, que tanto a @ quanto o X são tentativas de solução que lidam apenas com o aspecto textual da comunicação e tornam-se um problema na fala porque na prática são impronunciáveis.
Mas então seria possível fazer um texto que seja ao mesmo tempo legível por pessoas cegas e inclusivo para mulheres e pessoas não-binárias? Bom, temos que lidar com uma série de limitações do nosso próprio vocabulário e gramática, mas vou dizer aqui algumas estratégias que tenho adotado.
A primeira delas é quando se trata de uma mensagem informal, enviada para pessoas próximas, que não precisa se ater a questões de forma. Nesse caso, uma opção é trocar as desinências de gênero pela letra E, que será lida pelos aplicativos com tranquilidade. Assim, posso saudar “amigues querides e bonites”, por exemplo.
Agora em se tratando de textos formais, como comunicações, artigos ou trabalhos acadêmicos, tomo cuidados específicos, mantendo-os dentro das normas atuais. Um deles, que considero básico, é não utilizar a palavra “Homem” no sentido de “Humanidade” ou “seres humanos”. Essa é uma daquelas heranças machistas que toma o gênero masculino como significante do conjunto de humanos, ou seja, como o todo, e colocando a mulher como uma parte adjetivada desse todo. Em 2016, quando a Netflix anunciou que produziria um seriado original da franquia Star Trek, o fizeram pelo twitter em sua conta brasileira citando o slogan da série original “onde nenhum homem jamais esteve”. Na época eu respondi perguntando simplesmente se alguma mulher já esteve. O questionamento veio do fato de que, como se trata de um futuro com igualdade entre gêneros, raças e mesmo algumas espécies alienígenas, a própria série já tinha alterado seu slogan para “onde ninguém jamais esteve” há décadas, incluindo na frase, portanto, outras identidades de gênero não-masculinas e mesmo não-humanos, que fazem parte do universo retratado. Divago, mas a questão é que a palavra “homem” deveria significar apenas isso: uma pessoa do gênero masculino. Para contextos coletivos podemos pensar em outros termos, conforme assinalado.
Outra limitação de nossa língua diz respeito ao plural, que pela norma, a não ser em caso de totalidade feminina, deve ser utilizado no masculino. Em minha pesquisa de mestrado eu tive ajuda de diversas pessoas com quem conversei durante meu trabalho de campo. Desse grupo, apenas duas delas eram homens. Por isso considerei injusto o apagamento de todas as outras que ocorreria caso eu escrevesse “meus interlocutores” e optei por usar “minhas interlocutoras e meus interlocutores”, quando foi necessário. Parece começo de discurso político? Sim, também acho. Não é a solução mais elegante, mas é uma forma de dar conta da presença de mulheres e pessoas não-binárias nesse grupo. Talvez no futuro eu pense em uma forma melhor de lidar com isso, como aconteceu com o X. [Caso tenha interesse, minha dissertação intitulada “Corpo, Gênero e Identidade: Experiências transgênero na cidade de Manaus” está disponível nesse link].
No caso específico de quem se identifica como uma pessoa não-binária, a própria palavra “pessoa” é uma saída. Utilizando ela, posso até estar fazendo a concordância no feminino, mas isso não indica o gênero feminino de quem conversou comigo na pesquisa, e sim da própria palavra “pessoa”: nem masculina nem feminina. De novo, pode não ser a solução mais elegante e por vezes o texto pode soar repetitivo, mas é uma forma de garantir a “não-binariedade”, respeitando a identidade de gênero das pessoas a quem nos referimos. Os pronomes pessoais também são um problema, nesse caso, e aí as frases precisam ser construídas com cuidado maior. Em inglês há o uso do plural (they/them), mas não temos ainda um equivalente em português. Mesmo nesse texto, repare que por não me recordar de quem era a tese do causo de 2013, eu mesma escrevi acima sobre “quem o escreveu”, não me comprometendo em afirmar um gênero e fugindo da armadilha de usar o masculino como neutro. No final das contas o que faço é fazer uso dos recursos de linguagem que já temos, com o vocabulário e as normas que são de conhecimento geral.
[ATUALIZAÇÃO 08/06/2020] Em alguns lugares do Brasil é costume o uso de artigos antes do nome próprio antes de se referir a alguém, o que pode levar quem fala ou escrever a inferir de maneira equivocada o gênero da pessoa a quem se refere. A prática de utilizar os nomes sem artigo antecedendo é conveniente e ajuda a diminuir erros nesse sentido.
Esse breve texto não se propõe a ser uma instrução fechada: estamos todos tateando novas formas de expressão de gênero e de representá-las textualmente. O seu compartilhamento é no intuito de mostrar essas estratégias que tenho utilizado e na esperança de que o debate possibilite sempre novas e melhores soluções.

2 thoughts on “Sobre comunicação acessível e linguagem inclusiva”