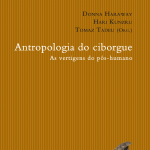Um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção.[…] Com o ciborgue, a natureza e a
cultura são reestruturadas: uma não pode mais ser o objeto de apropriação ou de incorporação pela outra (HARAWAY, 2009 p.36-39).
O mangá Ghost in the Shell, um marco para o cyberpunk, que já havia sido adaptado em anime com O Fantasma do Futuro, de 1995, agora recebe sua versão com atores, A Vigilante do Amanhã, protagonizada por Scarlett Johansson. É difícil não analisar ambas as obras em paralelo, já que fazem leituras diferentes de uma mesma fonte comum. Ficção científica com pitadas de ação, a narrativa do novo filme trata de um futuro distópico em que a Major (Johansson) possui um corpo cibernético, chamado de concha (shell), especialmente construído para receber seu cérebro após um acidente em que quase morreu. O cérebro, aqui, representa a individualidade do ser humano, sendo entendido como uma espécie de equivalência à alma (ghost). Major é a primeira de seu tipo: uma soldada perfeita para o combate ao crime, com um corpo artificial, mas humano. Ela encarna o mais próximo que um ciborgue pode chegar de um androide, ou seja um humano híbrido de um humanoide artificial. Sua crença em Hanka, a empresa que a criou, é desafiada quando entra em cena Hideo Kuze (Michael Pitt), que quer se vingar da empresa, que acusa de ter roubado sua vida.
Um dos pontos fortes de ambos os filmes é o visual. O anime, especificamente, empresta referências de Blade Runner, tratando-o como um antecessor espiritual e projetando referências a um futuro que é, sim, androide, mas mais que é isso é ciborguizado e conectado em rede. É fácil perceber como a estética foi absorvida pelas irmãs Wachowski, resultando, através da combinação de outros elementos, em Matrix. O filme segue as referências a Blade Runner, mas abstém-se de replicar o que já havia sido digerido por Matrix. Temos uma cidade cosmopolita preenchida com arranha-céus e adornada de neons e hologramas publicitários.
Outro ponto forte das adaptações são as discussões pertinentes que suscitam, mas a encarnação de 2017 sai perdendo ao personalizar as motivações e se afastar não só das maiores reflexões (expostas em diálogos elaborados no anime), como alterando em parte o sentido destas. Entretanto são trabalhados pontos importantes, ainda que de maneira superficial e apressada. A dúvida que norteia o roteiro é, afinal, o que nos define como humanos? O que diferencia um corpo artificial lido como humano e outro não? Major é confrontada com a casca de uma gueixa-robô agonizante e seu olhar reflete esse questionamento: se aquele mecanismo é tão artificial quanto o seu, porque os outros a tratam como humana? A resposta supostamente reside em sua alma ou seu cérebro, intacto, mas o próprio filme deixa claro que o corpo pode ser curado quantas vezes for necessário, enquanto o cérebro definha, pode ser hackeado e ter memórias manipuladas. Se aquilo que lhe garante a humanidade é justamente o que não pode ser confiado, como ter certeza de seu status? Conforme Donna Haraway, esses limites se apagam:
A cultura high-tech contesta – de forma intrigante – esses dualismos. Não está claro quem faz e quem é feito na relação entre o humano e a máquina. Não está claro o que é mente e o que é corpo em máquinas que funcionam de acordo com práticas de codificação. Na medida em que nos conhecemos tanto no discurso formal (por exemplo, na biologia) quanto na prática cotidiana (por exemplo, na economia doméstica do circuito integrado), descobrimo-nos como sendo ciborgues, híbridos, mosaicos, quimeras. Os organismos biológicos tornaram-se sistemas bióticos – dispositivos de comunicação como qualquer outro. Não existe, em nosso conhecimento formal, nenhuma separação fundamental, ontológica, entre máquina e organismo, entre técnico e orgânico (HARAWAY, 2009, p.95)
Mas essa persiste como uma dúvida que atormenta a Major, especialmente quando incentivada a indagar-se a respeito da exclusividade de sua categoria por Kuze. A versão de 2017 é claramente privada dos monólogos sobre o contexto social do conceito de humanidade focando na individualidade: Major se pergunta “quem sou eu”, não o que ela é, fugindo da noção de coletividade que envolve os indivíduos construídos. Mas de toda forma o que a leva a refletir sobre si é a totalidade artificial de sua corporalidade, uma vez que o aprimoramento cibernético dos corpos é entendido como algo corriqueiro.
Seu parceiro de campo, Batou (Pilou Asbæk) perde os olhos em uma explosão e recebe em troca um complexo sistema de lentes muito mais eficiente que as naturais. A prática da ciborguização leva a uma hierarquização dos corpos apresentados: mesmo que os implantes e próteses sejam melhorias, há um personagem que afirma ter orgulho de ser cem porcento humano. Mais que isso, a hierarquização perpassa a noção de humanidade com que as imagens humanoides são dispostos para o espectador. Não há dúvidas de que os gigantes corpos holográficos projetados nas publicidades não correspondem ao que se entende como humano. Acima deles em termos de aproximação com o humano, temos os corpos físicos dos robôs, categorizados como seres sem valor, criados para servir. Em seguida viriam os corpos de seres humanos, que se estabelecem em níveis variados de poder e por fim os próprios ciborgues, fisicamente melhores que estes, embora com a humanidade possivelmente questionada.
E nesse momento é importante mencionar a discussão acerca do whitewashing, ou seja, do apagamento das pessoas não brancas no filme de 2017. Os principais robôs que aparecem em cena tem a forma de gueixas, em uma problemática representação fetichizada e esterotipicamente submissa de raça e etnia, relativizada pela percepção de sua não humanidade, que nesse contexto permitiria sua exploração. A única mulher negra retratada, sem nome, é uma prostituta contratada pela Major, que busca uma forma de tentar se conectar com sua humanidade. No trailer ela beija a mulher, mas a cena foi removida na montagem final. Ainda assim permanece o contexto erotizado, como se a Major buscasse um espelho de si e tentasse encontrar em outro corpo o que tenta sentir em seu, apesar de até então não ter demonstrado nenhum tipo de interesse de cunho sexual ou amoroso. Além disso, se o ser humano é marcado também pela posse do próprio corpo (já que os corpos ciborgues, robôs e holográficos pertencem a corporações), como se encaixa essa personagem anônima na escala de humanidade? Em ambos os casos robôs e humana não-brancas são apresentadas como instrumento de uma sexualização que não lhes pertence. Isso é agravado no segundo caso pelo uso desse corpo com marcação de raça e etnia específica por uma mulher entendida como humana e branca (contextualizada como ausente da mesma marcação).
Por fim, causa incômodo a cena de tiroteio em que dezenas de homens asiáticos são assassinados por pessoas brancas. Como o mangá e anime, o filme manteve o cenário e as influências estéticas e culturais da Ásia, mas o protagonismo ficou com pessoas brancas. Como uma androide com o corpo completamente construído, Major poderia representar qualquer etnia, mas de maneira preguiçosa é apresentada como ocidental. E a explicação para tal fato é conveniente e acaba funcionando como uma tentativa rasa de justificar a escalação. O problema não é o papel ser delegado para Scarlett Johansson especificamente, já que a ficção científica abre margem para essa possibilidade, mas todo o conjunto de representações, contextos e subtextos presentes na obra, que resultam em uma clara percepção de whitewashing. Os entendimentos a respeito de humanidade acabam sendo apresentados de maneira intrinsecamente relacionada a raça e etnia, complexificando involuntariamente a questão principal do filme com a possibilidade de uma leitura racista.
Vestida, ou seja, coberta do que nos é artificial, Major se apresenta, em contraste, como humana. Despida, livre da construção que é o vestuário, com o que parece um corpo nu mas na verdade coberto por um collant composto de placas que lhe permite camuflagem térmica, ela se aproxima de outras formas humanóides não-humanas. Se por vezes humanizamos as coisas, em outras coisificamos ou objetificamos pessoas. A noção de pessoa e de coisa e as imagens que elas produzem (sejam as que estão sendo captadas nas filmagens, sejam as que são o resultado final da película) são indissociáveis.
Torna-se assim possível imaginar uma corporalidade que nada tem a ver com as cisões entre interior e exterior, mas sim com estado alternativo de experiência produzido por acoplamentos entre complexidades. Compatibilidade e não-compatibilidade, portanto, seria o desafio em questão; constituição de corpo conectivo como modo de afetação entre configurações de mundo distintas e suas distintas produções de sentido (CESARINO, 2017, p.12).
Dessa maneira, apesar de alguns problemas aqui apresentados, A Vigilante do Amanhã funciona na medida em que não extirpa de todo as questões apresentadas na versão anterior, questionando as categorias de humano e não-humano, cujos limites são borrados pela ciborguização, e a relação destas com a corporalidade de seus personagens.
Referências:
CESARINO, Pedro. Conflitos Entre Pressupostos na Antropologia da Arte: Relações entre pessoas, coisas e imagens. Revista Brasileira de Ciências Sociais. V. 32 n. 93, fev. 2017.
HARAWAY, Donna. Manifesto Ciborgue- Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In: HARAWAY, Donna; HARI, Kunzru; TOMAZ, Tadeu (org.). Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.